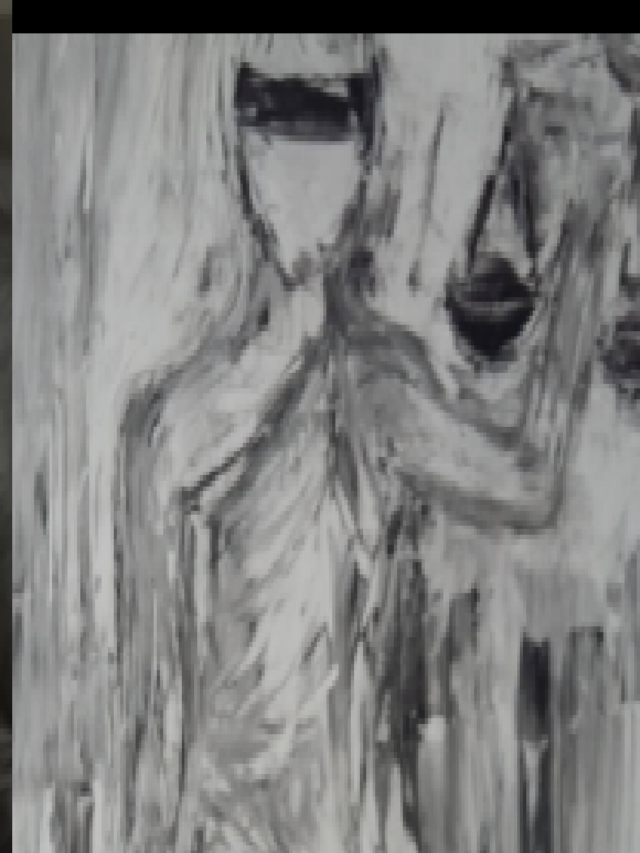Este artigo apresenta uma releitura de parte da obra de Elizabeth Ross, uma das autoras mais citadas sobre a questão da terminalidade da vida, do luto e do morrer. Sua obra tem sido de grande contribuição tanto para os profissionais de saúde como para pais, mães, filhos, parentes, leigos e religiosos que vivenciam o luto. Também tem sido alvo de controvérsias relacionadas a questões éticas e quanto a seu rigor científico. Os livros aqui comentados são: On death and dying (Sobre A morte e o morrer, de 1969); Questions and answers on death and dying (Perguntas e respostas sobre a morte e o morrer, de 1971); Living with death and dying(Vivendo com a morte e os moribundos, de 1981); On children and death (Sobre as crianças e a morte, de 1983); On life after death (Sobre a vida depois da morte, de 1991) e Life lessons (Lições de vida, de 2000).
Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra suíço-americana, uma entre trigêmeos, nascida com pouco mais de novecentos gramas, desde o início da vida sentiu que precisaria trabalhar duro para provar que merecia viver. Marcada na adolescência pelos horrores da Segunda Guerra, prometeu – e cumpriu – trabalhar na Polônia e na Rússia, ajudando nos primeiros socorros aos necessitados. Aí começava seu interesse pela morte e o morrer.
Ela viu de perto os campos de concentração, os crematórios, os vagões de milhares de sapatinhos de bebês e de cabelos de vítimas do holocausto que serviriam de enchimento para travesseiros na Alemanha. Depois disso, nunca mais foi a mesma. Mais que isso, percebeu a desumanidade do ser humano e o potencial de cada indivíduo para, segundo suas palavras, se tornar um monstro nazista ou uma Madre Teresa de Calcutá. Considerava que todos nós temos que tomar conhecimento desses aspectos internos, bons e maus.
Kubler-Ross planejava trabalhar na Índia, mas foi demovida de seu plano original por ter-se casado com um americano que a levou para residir em Nova Iorque, último lugar em sua lista de preferências. Lá, insatisfeita e infeliz, identificou-se com a solidão desesperada dos pacientes que atendia em um hospital de emergências. Diante de sua presença e disponibilidade, eles começavam a falar e a compartilhar seus sentimentos e histórias. Ela tinha dificuldades em compreender o inglês que eles falavam, mas – e ainda que soubesse pouco de psiquiatria – entendeu a linguagem da alma daquelas pessoas. Para Kubler-Ross, aquelas vivências não foram mera coincidência e prenunciavam o trabalho que viria a fazer mais tarde em sua carreira.
Em 1969, publicou o livro intitulado On death and dying1, o primeiro de uma série que iria projetá-la pelo mundo como especialista num assunto tabu para as sociedades ocidentais. Traduzido para trinta línguas, sua obra foi além da descrição dos cinco estágios (negação, raiva, barganha, depressão e aceitação) pelos quais passam os pacientes diante de uma doença fatal ou que potencialmente ameace a vida. Em seus estudos de caso, dissecou situações relacionais entre a equipe, os pacientes, seus familiares e entre os próprios profissionais. A autora considerava que o conhecimento teórico era importante, mas que ele de nada valia se não se trabalhasse com o coração e a alma.
Seu livro Questions and answers on death and dying2, publicado em 1974, contém exemplos de situações vividas em sua atividade na clínica. Compila as perguntas mais frequentes respondidas por ela nos cinco anos seguintes ao lançamento do primeiro livro, durante os cerca de setecentos grupos de trabalho, seminários e congressos que ministrou.
Nesse livro, Kubler-Ross aborda assuntos importantes como a interdisciplinaridade, os aspectos comunicacionais envolvidos na transmissão de notícias difíceis, o respeito à autonomia dos pacientes e a importância da família como parte da equipe em coparticipação para a construção de projetos terapêuticos singulares, entre outros. E ainda que não utilize qualquer desses termos, ela foi além da teoria, mostrando, com os relatos de suas vivências na clínica, o âmago dinâmico de cada um desses conceitos.
Em Living with death and dying3 de 1981, pela via dos exemplos da prática clínica, Kubler-Ross repete o formato de livros anteriores, mostrando os entraves e as soluções para a melhor abordagem junto a essas pessoas. O livro traz uma reflexão não só sobre pacientes terminais, mas sobre adultos, crianças saudáveis e seus familiares em outras situações críticas, tais como diante da perda inesperada dos entes queridos, por desaparecimento, acidente, assassinato ou suicídio.
Naquele final de século XX, a autora já discutia a transição do modelo de assistência em saúde estritamente hospitalar e biomédico para o modelo domiciliar ou de hospices. Reforçava a importância do tratamento holístico e discutia a relutância das equipes em administrar todos os recursos possíveis para aliviar as insuportáveis dores físicas e emocionais dos doentes. Dizia que a regra de ouro nesse novo modelo de atendimento era levar em conta a opinião dos pacientes sem julgá-los, mas ajudando-os a fazer suas escolhas. Ressaltava também que os membros da família precisam ser tão cuidados e orientados quanto o próprio paciente, para que se evite seu adoecimento emocional ao longo de todo o processo, do diagnóstico ao tratamento e no evento final.
Em sua obra, a autora não sistematiza seu conhecimento nem propõem fórmulas ou protocolos: o que ela faz é uma alusão à necessidade de preparo dos profissionais para lidar com essas circunstâncias, sem, no entanto, explicitar como prepará-los – provavelmente (se depreende) utilizando seu modelo de seminários, congressos e mesmo fitas e livros publicados. Tudo indica que, pela maneira com que lidava com a linguagem simbólica (especialmente no caso dos desenhos de crianças) e pela forma como tinha acesso ao inconsciente dessas pessoas, possa ter havido uma formação em psicanálise clássica ampliando, assim, sua visão do mundo emocional para além das teorias da psiquiatria.
Nesse último livro, o capítulo escrito pela mãe de um paciente já alerta para a importância da simetria nas relações com a equipe, especialmente nos casos mais graves e com reinternações prolongadas, quando a exposição dos diversos atores é ainda maior. Percebe-se que, naquele tempo, Kubler-Ross colocava ênfase no que hoje, segundo a humanização em saúde, chamaríamos de projeto terapêutico singular e de clínica ampliada.
Em 1983, a autora dedica On children and death4 aos casos de crianças, no qual aborda as mudanças das sociedades ocidentais diante do nascimento de um novo membro da família. O que antes era um acontecimento compartilhado pela comunidade agora é vivido como uma interrupção dos planos dos pais. Do ponto de vista de Kluber-Ross, o parto foi medicalizado e, no fundo, ela aponta para a diminuição do contato entre os seres humanos, sobretudo quando as situações críticas da vida e da morte não são discutidas e elaboradas pelos que as vivenciam. Novamente utilizando como exemplos os casos que acompanhou e depoimentos pessoais – prestados em seus seminários ou mesmo em cartas que recebia -, a autora discorre sobre o adoecimento e os vários tipos de morte em crianças e adolescentes: das resultantes de doenças graves às inesperadas, e suas respectivas repercussões sobre as famílias.
Kubler-Ross abordava os pequenos por meio de desenhos que eles produziam durante os contatos com ela, e os interpretava como sonhos, numa alusão não explícita à provável influência dos estudos de Freud sobre o inconsciente e a interpretação dos sonhos. Usando uma linguagem simbólica, metafórica, Kubler-Ross respondia às perguntas das crianças à medida que elas iam se apercebendo de suas dramáticas realidades. A autora considerava que as crianças tinham mais clareza quanto ao seu estado do que se supunha e, portanto, estavam expostas também a uma dor e a um sofrimento maiores pelo fato de não poderem partilhar suas dúvidas, angústias e pensamentos com outras pessoas.
Nesse livro ela começa a revelar sua interpretação espiritualizada da morte e do morrer. É na conversa com as crianças – que, para a autora, precisam ser respeitadas como pessoas e têm o direito de conhecer sua condição por meio de informação honesta e aberta – que Ross começa a usar a metáfora do casulo e da borboleta.
Para ela, o corpo físico é a morada temporária da alma ou entidade que se liberta, como uma borboleta do casulo, para habitar uma dimensão atemporal, na qual não há dor nem sofrimento; onde só há beleza, prazer e plenitude; onde a pessoa é recebida por um ente querido que já tenha feito o que ela chamava de transição, e onde nunca se está só. Essas ideias provocaram reações da comunidade científica, que considerava estar Kubler-Ross se afastando dos rigores metodológicos acadêmicos. A autora também aborda as consequências trágicas do luto mal elaborado dos pais e irmãos e a necessidade de tratá-los por meio da escuta acurada e de orientação familiar para prevenir o adoecimento emocional, ajudando-os a superar a perda. No mesmo livro, há um capítulo com várias cartas e depoimentos de pais narrando suas lutas internas para compreender a morte dos filhos, para dar destino a seus sentimentos e continuar a viver.
Quando a autora escreve sobre os profissionais, suas vicissitudes, erros e acertos, oferece-nos uma detalhada descrição do que hoje chamamos e esperamos que seja a reflexão em busca do atendimento humanizado em saúde.
On life after death5, de 1991, foi escrito na vigência das sequelas dos acidentes vasculares cerebrais sofridos pela autora. Naquele momento, ela se encontrava em uma cadeira de rodas, fisicamente dependente para realizar várias atividades diárias. Na abertura do livro ela endereça um ácido recado a seus detratores: ao invés de tentar convencê-los quanto à existência de vida após a morte, Kubler-Ross escreve que provavelmente estará presente na outra vida no momento em que eles irão constatar, pessoalmente, as convicções dela sobre o além.
Os estudos da autora sobre as experiências de quase morte fortaleceram sua crença numa instância superior e etérea, descrita por pessoas que estiveram clinicamente em estado crítico, assunto estudado até hoje. E, em razão dessa abordagem, Kubler-Ross foi questionada pela comunidade científica. Contra o argumento – que então prevalecia – de que essa experiência se devia à falta de aporte de oxigênio ao cérebro, causando ilusões preenchidas por desejos do paciente, ela citava os casos de pessoas cegas que durante o estado de quase morte puderam ver e, posteriormente, descrever os profissionais que haviam atuado em seu socorro. Sofrendo as pressões da comunidade científica e na iminência de abandonar a coordenação de seus famosos seminários, ela própria diz ter vivido o encontro com uma de suas pacientes, morta dez anos antes, que lhe pediu para não encerrar a atividade naquele momento.
Além dessa, a autora descreve outra experiência pessoal naquilo que chamava de consciência cósmica, citando haver caminhado por um vale sem tocar os pés no chão. Saindo desse estado mental lhe vieram à mente as palavras Shanti Nilaya, que – mais tarde veio a saber – significavam “última morada da paz”. A expressão tornou-se depois o nome da instituição fundada por ela na Califórnia para cuidar de pacientes terminais e das vítimas da então novíssima e pouco conhecida epidemia de Aids.
Life lessons6, de 2000, escrito em parceria com Davi Kessler – também especialista no tema da morte e do morrer -, é seu primeiro livro sobre a vida e o viver. Das experiências com os pacientes e familiares ela tira lições sobre autenticidade, amor, relações pessoais, perda, força, tempo, medo, raiva, lazer, paciência, rendição, perdão e felicidade. Os autores mantêm a fórmula dos livros anteriores de Ross, repletos de exemplos de situações vividas por pessoas diante de uma perda ou de outros acontecimentos trágicos. Kubler-Ross conclui que, ao estudar a morte, ela aprendeu mais sobre a vida e seus mistérios.
A autora foi acusada pela comunidade científica de se ter autopromovido por meios pouco éticos, acusação que recai no fato de apenas na bibliografia ela ter citado os profissionais pioneiros nesse campo que já vinham trabalhando e publicando estudos sobre as mudanças necessárias no tratamento de pacientes terminais. Com isso, segundo seus críticos, a autora fez com que leitores apressados e menos criteriosos atribuíssem a ela todos os méritos sobre o assunto. Mesmo os cinco estágios experimentados por doentes diante da morte teriam sido uma apropriação de trabalhos de Robertson e Bolby7 sobre a reação de crianças afastadas de suas mães. Os críticos de Kubler-Ross também referem seu isolamento e dificuldades em trabalhar com os demais profissionais que vinham lutando pela melhoria no atendimento e cuidado dos pacientes terminais8.
Para seus defensores, debater os detalhes e a validade de suas teses ou seu flerte com a espiritualidade é perder de vista o centro do seu trabalho. Com um único livro e uma vigorosa campanha proselitista, Kubler-Ross permitiu o debate mais aberto sobre nosso maior medo e única certeza: a morte9.
Se há um valor incontestável em seus livros é o de colocar em relevo a subjetividade das pessoas, lidando corajosamente com ela. Não há teorias, estatísticas, esquemas, protocolos ou receitas de como lidar com a dor da perda, embora a autora admita a necessidade de haver um preparo dos profissionais para que eles possam atuar em tal função.
O que há são tocantes histórias de sofrimento e superação, de compartilhamento e amadurecimento sobre os quais ela trabalha, lançando luz sobre a prática e tornando os debates sobre os assuntos sobre a morte e o morrer tangíveis para profissionais e leigos. Para Elisabeth Kubler-Ross, essas experiências são, sobretudo, oportunidades de crescimento pessoal.
(locução italiana que significa “deixai toda a esperança, ó vós que entrais”) Inscrição que, no poema de Dante, se acha colocada na porta do Inferno.
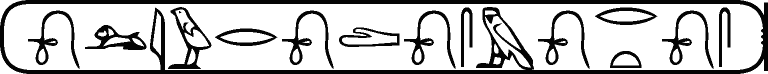  Durante o Império Novo (c. de 1550 a 1070 a.C.) a maior parte das fórmulas dos textos dos sarcófagos, acrescidas de diversas estrofes novas, passaram a ser escritas em rolos de papiro, os quais eram colocados nos ataúdes ou em algum local da câmara sepulcral, geralmente em um nicho cavado com essa finalidade. Quando postos no sarcófago costumavam ser encaixados entre as pernas dos corpos, logo acima dos tornozelos ou perto da parte superior das coxas, antes de serem passadas as bandagens. Tais textos, que formam um conjunto com cerca de 200 estrofes referentes ao mundo do além-túmulo, ilustrados com desenhos para ajudar o defunto na sua viagem para a eternidade, foram intitulados pelos modernos arqueólogos de Livro dos Mortos. Entretanto, conforme explica o especialista em história antiga, A. Abu Bakr, esse título é até certo ponto enganoso: na verdade, nunca existiu um “livro” desse gênero; a escolha das estrofes escritas em cada papiro variava segundo o tamanho do rolo, a preferência do adquirente e a opinião do sacerdote-escriba que as transcrevia. Um “Livro dos Mortos” médio continha entre 40 e 50 estrofes.Para os egípcios esse conjunto de textos era considerado como obra do deus Thoth. As fórmulas contidas nesses escritos podiam garantir ao morto uma viagem tranquila para o paraíso e, como estavam grafadas sobre um material de baixo custo, permitiam que qualquer pessoa tivesse acesso a uma terra bem-aventurada, o que antes só estava ao alcance do rei e da nobreza. Em verdade, essa compilação de textos era intitulada pelos egípcios de Capítulos do Sair à Luz ou Fórmulas para Voltar à Luz (Reu nu pert em hru), o que por si só já indica o espírito que presidia a reunião dos escritos, ainda que desordenados. Era objetivo desse compêndio, nos ensina o historiador Maurice Crouzet, fornecer ao defunto todas as indicações necessárias para triunfar das inúmeras armadilhas materiais ou espirituais que o esperavam na rota do “ocidente”.As cenas do julgamento do falecido fazem parte daquela rota e, portanto, de tais papiros. Durante o Império Novo (c. de 1550 a 1070 a.C.) a maior parte das fórmulas dos textos dos sarcófagos, acrescidas de diversas estrofes novas, passaram a ser escritas em rolos de papiro, os quais eram colocados nos ataúdes ou em algum local da câmara sepulcral, geralmente em um nicho cavado com essa finalidade. Quando postos no sarcófago costumavam ser encaixados entre as pernas dos corpos, logo acima dos tornozelos ou perto da parte superior das coxas, antes de serem passadas as bandagens. Tais textos, que formam um conjunto com cerca de 200 estrofes referentes ao mundo do além-túmulo, ilustrados com desenhos para ajudar o defunto na sua viagem para a eternidade, foram intitulados pelos modernos arqueólogos de Livro dos Mortos. Entretanto, conforme explica o especialista em história antiga, A. Abu Bakr, esse título é até certo ponto enganoso: na verdade, nunca existiu um “livro” desse gênero; a escolha das estrofes escritas em cada papiro variava segundo o tamanho do rolo, a preferência do adquirente e a opinião do sacerdote-escriba que as transcrevia. Um “Livro dos Mortos” médio continha entre 40 e 50 estrofes.Para os egípcios esse conjunto de textos era considerado como obra do deus Thoth. As fórmulas contidas nesses escritos podiam garantir ao morto uma viagem tranquila para o paraíso e, como estavam grafadas sobre um material de baixo custo, permitiam que qualquer pessoa tivesse acesso a uma terra bem-aventurada, o que antes só estava ao alcance do rei e da nobreza. Em verdade, essa compilação de textos era intitulada pelos egípcios de Capítulos do Sair à Luz ou Fórmulas para Voltar à Luz (Reu nu pert em hru), o que por si só já indica o espírito que presidia a reunião dos escritos, ainda que desordenados. Era objetivo desse compêndio, nos ensina o historiador Maurice Crouzet, fornecer ao defunto todas as indicações necessárias para triunfar das inúmeras armadilhas materiais ou espirituais que o esperavam na rota do “ocidente”.As cenas do julgamento do falecido fazem parte daquela rota e, portanto, de tais papiros.  A decisão era tomada no Saguão das Duas Verdades, um grande salão no qual ficava uma grande balança destinada a pesar o coração do morto. A solenidade é assim resumida pelo egiptólogo Kurt Lange: Osíris, senhor da eternidade, está sentado como um rei no seu trono. Tem em suas mãos o cetro e o leque. Por trás dele, mantêm-se habitualmente suas irmãs Ísis e Néftis. Na outra extremidade, vê-se a deusa da justiça, Maat, introduzir o morto ou a morta. No meio do quadro está desenhada a grande balança em que o peso do coração é comparado ao duma pluma de avestruz, símbolo da verdade. A pesagem é confiada a Hórus e ao guardião das múmias, de cabeça de chacal, Anúbis. O deus Thoth, de cabeça de íbis, senhor da sabedoria e da escrita, anota o resultado da pesagem sobre um papiro, por meio de um cálamo. Quarenta e dois juízes — correspondendo quarenta e duas províncias do Egito — assistem à operação. Diante desse tribunal é que o candidato à eternidade deve fazer as declarações nas quais afirma nunca se ter tornado culpado de certo número de faltas para com seus semelhantes, para com os deuses, para com sua própria pessoa e o bem alheio. Se a sentença dos juízes fosse favorável ao morto, Hórus tomava-o pela mão e o conduzia ao trono de Osíris, que lhe indicava seu lugar no reino do além. Essa é a cena que vemos na ilustração do alto da página. Ela pertence ao Livro dos Mortos de Hunefer, obra originária de Tebas e datada da XIX dinastia (c. 1307 a 1196 a.C.). Caso contrário, o morto estaria cheio de pecados e, então, seria comido por um terrível monstro, Ammut, o devorador dos mortos. Tratava-se de uma fera com corpo misto de leão, hipopótamo e crocodilo: os três maiores animais “devoradores de homens” conhecidos pelos antigos egípcios. É essa figura híbrida que vemos ao lado de Anúbis na foto acima, cujo copyright é do Canadian Museum of Civilization Corporation.A idéia central do Livro dos Mortos é o respeito à verdade e à justiça, mostrando o elevado ideal da sociedade egípcia. Era crença geral que diante de Osíris de nada valeriam as riquezas, nem a posição social do falecido, mas que apenas seus atos seriam levados em conta. Foi justamente no Egito que esse enfoque de que a sorte dos mortos dependia do valor de sua conduta moral enquanto vivo ocorreu pela primeira vez na história da humanidade. Mil anos mais tarde, — diz Kurt Lange — essa idéia altamente moral não se espalhara ainda por nenhum dos povos civilizados que conhecemos. Em Babilônia, como entre os hebreus, os bons e os maus eram vítimas no além, e sem discernimento, das mesmas vicissitudes. A decisão era tomada no Saguão das Duas Verdades, um grande salão no qual ficava uma grande balança destinada a pesar o coração do morto. A solenidade é assim resumida pelo egiptólogo Kurt Lange: Osíris, senhor da eternidade, está sentado como um rei no seu trono. Tem em suas mãos o cetro e o leque. Por trás dele, mantêm-se habitualmente suas irmãs Ísis e Néftis. Na outra extremidade, vê-se a deusa da justiça, Maat, introduzir o morto ou a morta. No meio do quadro está desenhada a grande balança em que o peso do coração é comparado ao duma pluma de avestruz, símbolo da verdade. A pesagem é confiada a Hórus e ao guardião das múmias, de cabeça de chacal, Anúbis. O deus Thoth, de cabeça de íbis, senhor da sabedoria e da escrita, anota o resultado da pesagem sobre um papiro, por meio de um cálamo. Quarenta e dois juízes — correspondendo quarenta e duas províncias do Egito — assistem à operação. Diante desse tribunal é que o candidato à eternidade deve fazer as declarações nas quais afirma nunca se ter tornado culpado de certo número de faltas para com seus semelhantes, para com os deuses, para com sua própria pessoa e o bem alheio. Se a sentença dos juízes fosse favorável ao morto, Hórus tomava-o pela mão e o conduzia ao trono de Osíris, que lhe indicava seu lugar no reino do além. Essa é a cena que vemos na ilustração do alto da página. Ela pertence ao Livro dos Mortos de Hunefer, obra originária de Tebas e datada da XIX dinastia (c. 1307 a 1196 a.C.). Caso contrário, o morto estaria cheio de pecados e, então, seria comido por um terrível monstro, Ammut, o devorador dos mortos. Tratava-se de uma fera com corpo misto de leão, hipopótamo e crocodilo: os três maiores animais “devoradores de homens” conhecidos pelos antigos egípcios. É essa figura híbrida que vemos ao lado de Anúbis na foto acima, cujo copyright é do Canadian Museum of Civilization Corporation.A idéia central do Livro dos Mortos é o respeito à verdade e à justiça, mostrando o elevado ideal da sociedade egípcia. Era crença geral que diante de Osíris de nada valeriam as riquezas, nem a posição social do falecido, mas que apenas seus atos seriam levados em conta. Foi justamente no Egito que esse enfoque de que a sorte dos mortos dependia do valor de sua conduta moral enquanto vivo ocorreu pela primeira vez na história da humanidade. Mil anos mais tarde, — diz Kurt Lange — essa idéia altamente moral não se espalhara ainda por nenhum dos povos civilizados que conhecemos. Em Babilônia, como entre os hebreus, os bons e os maus eram vítimas no além, e sem discernimento, das mesmas vicissitudes. |
Não resta dúvida de que o julgamento de seus atos após a morte devia preocupar, e muito, a maioria dos egípcios, religiosos que eram. Mas — pondera Crouzet — a provação era de tal espécie, que podia ser sobrepujada por uma memória eficaz, ajudada pelo papiro colocado junto ao cadáver, que possibilitaria ao defunto enunciar certas sentenças soberanas. Como afastar a palavra “magia”, e negar que o emprego destas fórmulas era considerado suficiente para apagar os erros da vida terrena? É claro que o crente era convidado a não cometê-los: seria a melhor maneira de garantir a sua salvação futura. Mas nenhuma reserva, em parte alguma, limitava a eficácia das receitas de que tratava de munir-se, desde que fosse obstinado, embora culpado.
É preciso que se diga que embora o Livro dos Mortos tenha aparecido grafado em papiros apenas a partir do Império Novo, sua origem é muito mais antiga, anterior até mesmo ao período dinástico. Inicialmente, contando apenas com poucas estrofes relativamente simples, adequadas aos costumes de uma época remota, seu conteúdo era transmitido de forma oral. Com o aumento da quantidade e da complexidade dos textos, os sacerdotes se viram obrigados a escrevê-los antes que se perdessem da memória dos fiéis. Num processo de cópias sucessivas foram introduzidas variações e enganos, tanto por equívoco na leitura dos caracteres quanto por desleixo, cansaço do copista e acréscimos feitos pelo próprio escriba interessado em impor sua opinião. A cópia mais antiga encontrada foi escrita para Nu, filho do intendente da casa do intendente do selo, Amen-hetep, e da dona de casa, Senseneb. Esse valioso documento, avaliam os arqueólogos, não pode ser posterior ao início da XVIII dinastia (c. de 1550 a.C.). Ele faz referência a datas dos textos que transcreve e uma delas se refere aos idos de um dos faraós da I dinastia (c. de 2920 a 2770 a.C.).
Foi nos sepulcros de Tebas que os pesquisadores encontraram a maior parte das cópias do Livro dos Mortos. Em tais papiros os comprimentos variam entre 4,57 e 27,43 metros e a largura entre 30,48 e 45,72 centímetros. No início do Império Novo os textos são sempre escritos com tinta preta e os hieróglifos dispostos em colunas verticais, separadas entre si por linhas pretas. Títulos, palavras iniciais dos capítulos, rubricas e chamadas são grafadas com tinta vermelha. Os escribas também enfeitavam os papiros com vinhetas de traços pretos, às vezes copiadas de ataúdes e documentos de dinastias bem anteriores como a XI (c. de 2134 a 1991 a.C), por exemplo. A partir da XIX dinastia (c. de 1307 a 1196 a.C.) as vinhetas passaram a ser pintadas com cores muito brilhantes e cresceram de importância, ao passo que o texto passou a ocupar uma posição secundária. Um dos mais belos papiros ilustrados que existem é o assim chamado Papiro de Ani, cujas vinhetas representam cenas mitológicas, nomes de deuses e cenas do julgamento dos mortos.
No decorrer da XXI e da XXII dinastias (c. de 1070 a 712 a.C.) houve deterioração do trabalho de escribas e desenhistas e a qualidade do mesmo diminuiu sensivelmente, além de ter havido alterações no conteúdo dos textos. Outros temas não relacionados com o mundo dos mortos, como a criação do mundo, por exemplo, foram incluídos nos papiros dessa época. Às vezes o texto nada tem a ver com a vinheta que o acompanha. Nesse período também se estabeleceu o costume de encher com os papiros figuras ocas de madeira do deus Osíris, as quais eram colocadas nos túmulos. Quando os papiros diminuíram de tamanho, passaram a ser armazenados em cavidades menores nas bases de tais figuras. Do final da XXII dinastia em diante, até o início da XXVI dinastia (664 a.C.) ocorreu um período de desordem e tumulto. Os sacerdotes perderam gradualmente o seu poder religoso e temporal e a crise provocou redução das despesas com cerimônias funerárias, tendo caído em desuso o costume de se fazer cópias do Livro dos Mortos.
Quando os faraós da XXVI dinastia assumiram o poder houve uma renovação dos antigos costumes mortuários, templos foram restaurados e textos antigos esquecidos foram relembrados e novamente copiados. No que se refere ao Livro dos Mortos tais cópias passaram a ser feitas de forma sistemática. Os capítulos passaram a ter uma ordem fixa, mantidos na mesma ordem relativa nos diversos papiros, ainda que alguns contivessem mais texto do que os outros, e quatro capítulos novos foram acrescentados, refletindo as novas idéias religiosas da época. Esses escritos continuaram a ser usados durante o período ptolomaico (304 a 30 a.C.). Nessa época, porém, só eram grafados os textos que se acreditava absolutamente necessários à salvação do morto. Textos que refletiam uma mitologia há muito esquecida eram ignorados.
Termino o texto com uma frase de Walter Osswald: “talvez a pessoa idosa nunca tenha lido Fernando Pessoa e não saiba que”A morte é a curva da estrada/morrer é não ser visto’. Mas sentirá a necessidade de, antes de dobrar a curva, reavaliar a sua relação com aqueles que o deixarão de ver”.
Nota♠ Uns dizem que a morte é a extinção da vida, outros que é o desaparecimento dos processos vitais, ou químicos, porém, compartilho com a visão filosófica de que a morte é a alteração dos elos da cadeia infinita.
Ps♣ Viva, de modo que você não tenha que olhar para trás e dizer: Meu Deus, como desperdicei a minha vida.